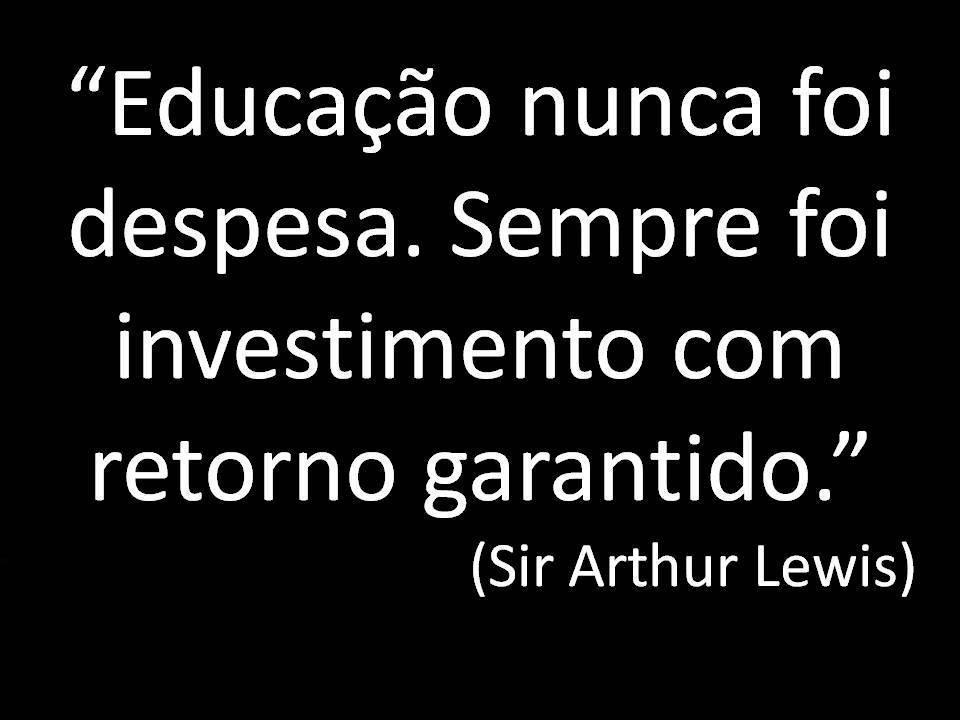Por Paula Adamo Idoeta, da BBC News Brasil
Episódios diários de racismo, desde ser alvo de preconceito até assistir a casos de violência sofridos por outras pessoas da mesma raça, têm um efeito às vezes “invisível”, mas duradouro e cruel sobre a saúde, o corpo e o cérebro de crianças.
A conclusão é do Centro de Desenvolvimento Infantil da Universidade de Harvard, que compilou estudos documentando como a vivência cotidiana do racismo estrutural, de suas formas mais escancaradas às mais sutis ou ao acesso pior a serviços públicos, impacta “o aprendizado, o comportamento, a saúde física e mental” infantil.
No longo prazo, isso resulta em custos bilionários adicionais em saúde, na perpetuação das disparidades raciais e em mais dificuldades para grande parcela da população em atingir seu pleno potencial humano e capacidade produtiva.
Embora os estudos sejam dos EUA, dados estatísticos — além do fato de o Brasil também ter histórico de escravidão e desigualdade — permitem traçar paralelos entre os dois cenários.
Aqui, casos recentes de violência contra pessoas negras incluem o de Beto Freitas, espancado até a morte dentro de um supermercado Carrefour em Porto Alegre em 20 de novembro, e o das primas Emilly, 4, e Rebeca, 7, mortas por disparos de balas enquanto brincavam na porta de casa, em Duque de Caxias em 4 de dezembro.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 53% dos brasileiros são negros, classificação do instituto que reúne quem se declarou preto ou pardo no censo de 2010.
Nos EUA, os negros são 13% da população.
A seguir, quatro impactos do ciclo vicioso do racismo, segundo o documento de Harvard. Para discutir as particularidades disso no Brasil, a reportagem entrevistou a psicóloga Cristiane Ribeiro, autora de um estudo recente sobre como a população negra lida com o sofrimento físico e mental, que foi tema de sua dissertação de mestrado pelo Programa de Pós-graduação em Promoção da Saúde e Prevenção da Violência da UFMG.
1. Corpo em estado de alerta constante
O racismo e a violência dentro da comunidade (e a ausência de apoio para lidar com isso) estão entre o que Harvard chama de “experiências adversas na infância”. Passar constantemente por essas experiências faz com que o cérebro se mantenha em estado constante de alerta, provocando o chamado “estresse tóxico”.
“Anos de estudos científicos mostram que, quando os sistemas de estresse das crianças ficam ativados em alto nível por longo período de tempo, há um desgaste significativo nos seus cérebros em desenvolvimento e outros sistemas biológicos”, diz o Centro de Desenvolvimento Infantil da universidade.
Na prática, áreas do cérebro dedicadas à resposta ao medo, à ansiedade e a reações impulsivas podem produzir um excesso de conexões neurais, ao mesmo tempo em que áreas cerebrais dedicadas à racionalização, ao planejamento e ao controle de comportamento vão produzir menos conexões neurais.

Crédito: REUTERS
“Isso pode ter efeito de longo prazo no aprendizado, comportamento, saúde física e mental”, prossegue o centro. “Um crescente corpo de evidências das ciências biológicas e sociais conecta esse conceito de desgaste (do cérebro) ao racismo. Essas pesquisas sugerem que ter de lidar constantemente com o racismo sistêmico e a discriminação cotidiana é um ativador potente da resposta de estresse.”
“Embora possam ser invisíveis para quem não passa por isso, não há dúvidas de que o racismo sistêmico e a discriminação interpessoal podem levar à ativação crônica do estresse, impondo adversidades significativas nas famílias que cuidam de crianças pequenas”, conclui o documento de Harvard.
2. Mais chance de doenças crônicas ao longo da vida
Essa exposição ao estresse tóxico é um dos fatores que ajudam a explicar diferenças raciais na incidência de doenças crônicas, prossegue o centro de Harvard:
“As evidências são enormes: pessoas negras, indígenas e de outras raças nos EUA têm, em média, mais problemas crônicos de saúde e vidas mais curtas do que as pessoas brancas, em todos os níveis de renda.”
Alguns dados apontam para situação semelhante no Brasil. Homens e mulheres negros têm, historicamente, incidência maior de diabetes — 9% mais prevalente em negros do que em brancos; 50% mais prevalente em negras do que em brancas, segundo o Ministério da Saúde — e pressão alta, por exemplo.
Os números mais marcantes, porém, são os de violência armada, como a que vitimou as meninas Emilly e Rebeca. O Atlas da Violência aponta que negros foram 75,7% das vítimas de homicídio no Brasil em 2018.
A taxa de homicídios de brasileiros negros é de 37,8 para cada 100 mil habitantes, contra 13,9 de não negros.
Há, ainda, uma incidência possivelmente maior de problemas de saúde mental: de cada dez suicídios em adolescentes em 2016, seis foram de jovens negros e quatro de brancos, segundo pesquisa do Ministério da Saúde publicada no ano passado.
“O adoecimento (pela vivência do racismo) é constante, e vemos nos dados escancarados, como os da violência, mas também na depressão, no adoecimento psíquico e nos altos números de suicídio”, afirma a psicóloga Cristiane Ribeiro.

Crédito: EPA
“E por que essa é violência é tão marcante entre pessoas negras? Porque aprendemos que nosso semelhante é o pior possível e o quanto mais longe estivermos dele, melhor. A criança materializa isso de alguma forma. Temos estatísticas de que crianças negras são menos abraçadas na educação infantil, recebem menos afeto dos professores. (Algumas) ouvem desde cedo ‘esse menino não aprende mesmo, é burro’ ou ‘nasceu pra ser bandido’”, prossegue Ribeiro.
Embora muitos conseguem superar essa narrativa, outros têm sua vida marcada por ela, diz Ribeiro. “Trabalhei durante muito tempo no sistema socioeducativo (com jovens infratores), e essas sentenças são muito recorrentes: o menino que escuta desde pequeno que ‘não vai ser nada na vida’. São trajetórias sentenciadas.”
3. Disparidades na saúde e na educação
Os problemas descritos acima são potencializados pelo menor acesso aos serviços públicos de saúde, aponta Harvard.
“Pessoas de cor recebem tratamento desigual quando interagem em sistemas como o de saúde e educação, além de terem menos acesso a educação e serviços de saúde de alta qualidade, a oportunidades econômicas e a caminhos para o acúmulo de riqueza”, diz o documento do Centro de Desenvolvimento infantil.
“Tudo isso reflete formas como o legado do racismo estrutural nos EUA desproporcionalmente enfraquece a saúde e o desenvolvimento de crianças de cor.”
Mais uma vez, os números brasileiros apontam para um quadro parecido. Segundo levantamento do Ministério da Saúde, 67% do público do SUS (Sistema Único de Saúde) é negro. No entanto, a população negra realiza proporcionalmente menos consultas médicas e atendimentos de pré-natal.
E, entre os 10% de pessoas com menor renda no Brasil, 75% delas são pretas ou pardas.
Na educação, as disparidades persistem. Crianças negras de 0 a 3 anos têm percentual menor de matrículas em creches. Na outra ponta do ensino, 53,9% dos jovens declarados negros concluíram o ensino médio até os 19 anos — 20 pontos percentuais a menos que a taxa de jovens brancos, apontam dados de 2018 do movimento Todos Pela Educação.

Crédito: ROGERIO SANTANA
4. Cuidadores mais fragilizados e ‘racismo indireto’
Os efeitos do estresse não se limitam às crianças: se estendem também aos pais e responsáveis por elas — e, como em um efeito bumerangue, voltam a afetar as crianças indiretamente.
“Múltiplos estudos documentaram como os estresses da discriminação no dia a dia em pais e outros cuidadores, como ser associado a estereótipos negativos, têm efeitos nocivos no comportamento desses adultos e em sua saúde mental”, prossegue o Centro de Desenvolvimento Infantil.
Um dos estudos usados para embasar essa conclusão é uma revisão de dezenas de pesquisas clínicas feita em 2018, que aborda o que os pesquisadores chamam de “exposição indireta ao racismo”: mesmo quando as crianças não são alvo direto de ofensas ou violência racista, podem ficar traumatizadas ao testemunhar ou escutar sobre eventos que tenham afetado pessoas próximas a elas.
“Especialmente para crianças de minorias (raciais), a exposição frequente ao racismo indireto pode forçá-las a dar sentido cognitivamente a um mundo que sistematicamente as desvaloriza e marginaliza”, concluem os pesquisadores.
O estudo identificou, como efeito desse “racismo indireto”, impactos tanto em cuidadores (que tinham autoestima mais fragilizada) como nas crianças, que nasciam de mais partos prematuros, com menor peso ao nascer e mais chances de adoecer ao longo da vida ou de desenvolver depressão.
Na infância, diz a psicóloga Cristiane Ribeiro, é quando começamos a construir nossa capacidade de acreditar no próprio potencial para viver no mundo. No caso da população negra, essa construção é afetada negativamente pelos estereótipos racistas, sejam características físicas ou sociais — como o “cabelo pixaim” ou “serviço de preto”.

Crédito: GETTY IMAGES
“A gente precisa ter referências mais positivas da população negra como aquela que também é responsável pela constituição social do Brasil. A única representação que a gente tem no livro didático de história é de uma pessoa (escravizada) acorrentada, em uma situação de extrema vulnerabilidade e que está ali porque ‘não se esforçou para não estar’”, diz a pesquisadora.
Mesmo atos “sutis” — como pessoas negras sendo seguidas por seguranças em shopping centers ou recebendo atendimento pior em uma loja qualquer —, que muitas vezes passam despercebidos para observadores brancos, podem ter efeitos devastadores sobre a autoestima, prossegue Ribeiro.
“Isso que a gente costuma chamar de sutileza do racismo não tem nada de sutil na minha perspectiva. Quando alguém grita ‘macaco’ no meio da rua, as pessoas compartilham a indignação. É diferente do olhar (preconceituoso), que só o sujeito viu e só ele percebeu. Mesmo para a militante mais empoderada e ciente de seus direitos — porque é uma luta sem descanso —, tem dias que não tem jeito, esse olhar te destroça. A gente fala muito da força da mulher negra, mas e o direito à fragilidade? será que ser frágil também é um privilégio?”
Como romper o ciclo
“Avanços na ciência apresentam um retrato cada vez mais claro de como a adversidade forte na vida de crianças pequenas pode afetar o desenvolvimento do cérebro e outros sistemas biológicos. Essas perturbações iniciais podem enfraquecer as oportunidades dessas crianças em alcançar seu pleno potencial”, diz o documento de Harvard.
Mas é possível romper esse ciclo, embora lembrando que as formas de combatê-lo são complexas e múltiplas.

ARQUIVO PESSOAL
“Precisamos criar novas estratégias para lidar com essas desigualdades que sistematicamente ameaçam a saúde e o bem-estar das crianças pequenas de cor e os adultos que cuidam delas. Isso inclui buscar ativamente e reduzir os preconceitos em nós e nas políticas socioeconômicas, por meio de iniciativas como contratações justas, oferta de crédito, programas de habitação, treinamento antipreconceito e iniciativas de policiamento comunitário”, diz o Centro de Desenvolvimento Infantil de Harvard.
Para Cristiane Ribeiro, passos fundamentais nessa direção envolvem mais representatividade negra e mais discussões sobre o tema dentro das escolas.
“Se tenho uma escola repleta de negros ou pessoas de diferentes orientações sexuais, mas isso não é dito, não é tratado, você tem a mesma segregação que nos outros espaços”, opina.
“Precisamos extinguir a ideia do ‘lápis cor de pele’. Tem tanta cor de pele, porque um lápis rosa a representa? Tem também a criança com cabelo crespo em uma escola onde só são penteados os cabelos lisos. Se a professora der conta de tratar aquele cabelo de uma forma tão afetiva quanto ela trata o cabelo lisinho, ela mudará o mundo daquela criança, inclusive incluindo nessa criança defesa para que ela responda quando seu cabelo for chamado de duro, de feio. E daí ela se olha no espelho e vê beleza, que é um direito que está sendo conquistado muito aos poucos. A chance é de que faça diferença pra família inteira. A criança negra que fala ‘não, mãe, meu cabelo não é feio’ desloca aquele ciclo naquela família, de todas as mulheres alisarem o cabelo. (…) Um olhar afetivo nessa história quebra o ciclo.”
O afeto e a construção de redes de apoio também são apontados por Harvard como formas de aliviar o peso do estresse tóxico e construir resiliência em crianças e famílias.
“É claro que a ciência não consegue lidar com esses desafios sozinha, mas o pensamento informado pela ciência combinado com o conhecimento em mudar sistemas entrincheirados e as experiências vividas pelas famílias que criam seus filhos sob diferentes condições podem ser poderosos catalisadores de estratégias eficientes,” defende o Centro para o Desenvolvimento Infantil.