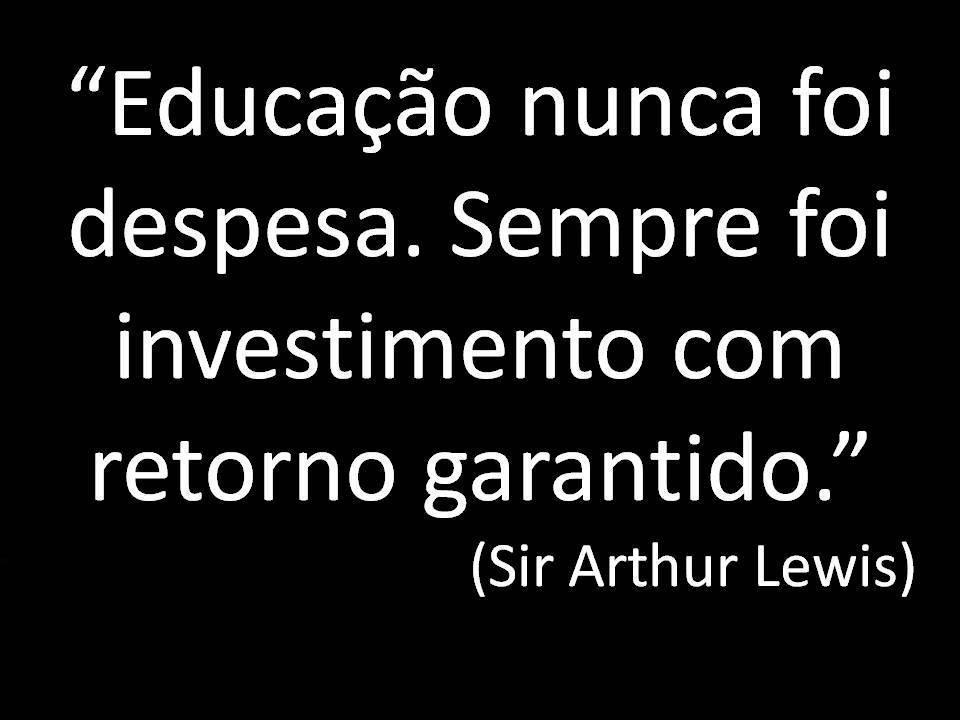Diplomata e cientista nuclear é um dos 100 negros mais influentes do mundo
Por Ana Paula Lisboa, do Correio Braziliense
Paraibano, Ernesto Batista Mané Júnior, 37 anos, atua com excelência no que se dispõe a fazer: ao longo da vida, foi garçom, professor de inglês, programador e pesquisador. Atualmente, concilia duas diferentes carreiras de destaque, nas quais encontrou uma intersecção num nicho que alia todas as suas habilidades.
Diplomata pelo Itamaraty e cientista nuclear, o físico pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) foi reconhecido como uma das 100 pessoas negras mais influentes do mundo na área de política e governança na lista Most Influential People of Africa Descent (Mipad).
É doutor em física nuclear pela Universidade de Manchester (Inglaterra), onde fez intercâmbio de graduação; pesquisador no Cern, o maior laboratório de física de partículas do mundo, em Genebra, na Suíça; e fez dois pós-doutorados: pelo Laboratório de Física Nuclear e de Partículas do Canadá e pela Universidade Princeton, nos Estados Unidos.
A vivência no exterior foi um dos fatores que o atraíram para a carreira diplomática. Por meio do programa de ações afirmativas do Itamaraty (que, com uma bolsa, apoia pessoas negras a estudar para o concurso), preparou-se para o certame por dois anos até aprovação.
Ernesto se desfez dos dreads no cabelo pouco antes da formatura como diplomata justamente por causa do clima da capital federal, “muito quente em algumas épocas do ano”. O pai dele, de quem herdou o nome, morreu em 2014 e foi cremado no mesmo dia que Ernesto tomou posso com diplomata.
“Ao entrar no Ministério das Relações Exteriores, eu me mostrei aberto para trabalhar com todos os temas da política brasileira e foi uma feliz coincidência me envolver com áreas ligadas a desarmamento e não proliferação de armas de destruição em massa”, relata. É nessa temática que ele vem se especializando nos últimos anos.
Ernesto fala inglês, espanhol, francês e alemão. Como diplomata, não foi removido para fora do Brasil, mas fez viagens a serviço. Um ponto alto foi viajar com a Organização das Nações Unidas (ONU) por três meses, passando por países da Europa e da Ásia, além de Nova York, nos EUA. Ele foi o sétimo diplomata brasileiro nomeado para participar do programa, existente desde a década de 1970.
No segundo pós-doutorado, em Princeton, Ernesto ficou um ano, com licença de estudo do Itamaraty, e aprofundou os conhecimentos sobre desarmamento e capacitou-se para atuar com diplomacia nuclear. “Era um programa de pós-graduação em políticas públicas desenhado por físicos”, descreve.
“Eu não conseguiria fazer essa pesquisa se fosse só físico ou se fosse só diplomata. Diplomatas físicos existem, mas, sem falsa modéstia, não existem outros diplomatas com esse background de pós-doutorado em física nuclear produzindo nessa área além deste que vos fala”, afirma.
Raízes africanas
Filho de uma contadora e servidora pública brasileira e de um economista e professor de Guiné-Bissau de quem herdou o nome, Ernesto passou os primeiros anos da vida morando em São Paulo. “Minha mãe já tinha dois filhos, conheceu meu pai, com quem teve mais dois: eu e minha irmã. Nós quatro crescemos juntos e constituímos o núcleo familiar da minha infância”, conta.
Esse núcleo morou no Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo (Crusp), quando o pai de Ernesto foi estudar na USP. O paraibano passou por escolas públicas e particulares com bolsas. No ensino médio, formou-se como técnico em informática pelo Instituto Federal da Paraíba (IFPB).
Professores dessa época e da graduação na UFPB são mentores de Ernesto até hoje. Apesar de ter crescido com três irmãos, Ernesto tem outros, por parte de pai, em João Pessoa, em Cabo Verde e na Guiné-Bissau. Buscando aproximar-se de suas raízes, viajou para a Guiné-Bissau, onde passou quase um mês entre 2010 e 2011. “Meus avós ainda moravam lá. Conheci duas irmãs, tios e primos.”
Ao visitar uma nação também antiga colônia portuguesa, Ernesto se sentiu numa viagem ao passado, como se estivesse visitando o Brasil pós-independência. “É um país que foi colônia por mais tempo e sofre até hoje, de maneira mais recente e aguda, os efeitos do colonialismo”, conta. Foi a primeira vez dele na África e gerou muitas reflexões. Ernesto fez um diário de viagem detalhado sobre a experiência que está sendo transformada em livro.
Racismo fora
Durante o doutorado no Reino Unido, ele precisava fazer constantes viagens ao Cern, na fronteira entre a França e a Suíça. “Os oficiais de imigração ficavam desconfiados sobre o porquê de eu ficar entrando e saindo do Reino Unido. Não acreditavam na minha história de ser um físico pesquisador”, relata.
Na fronteira entre a Suíça e a França, foi confundido com um traficante na abordagem por um oficial francês. “Se eu fosse uma pessoa com fenótipo caucasiano, ele não teria demonstrado o mesmo tratamento”, percebe.
Em Vancouver, no Canadá, ao retornar de viagem para a Guiné-Bissau, também foi abordado de um modo diferente. O racismo permeava outros contextos. “É impossível dizer que a cor da minha pele não influenciava a maneira como eu me relacionava com as pessoas”, diz.
“Eu vivi e vivo num misto entre a meritocracia e o racismo. Sou reconhecido por várias pessoas, mas isso não significa que as pessoas com que me relacionei não tinham um viés negativo por causa da cor da minha pele.”