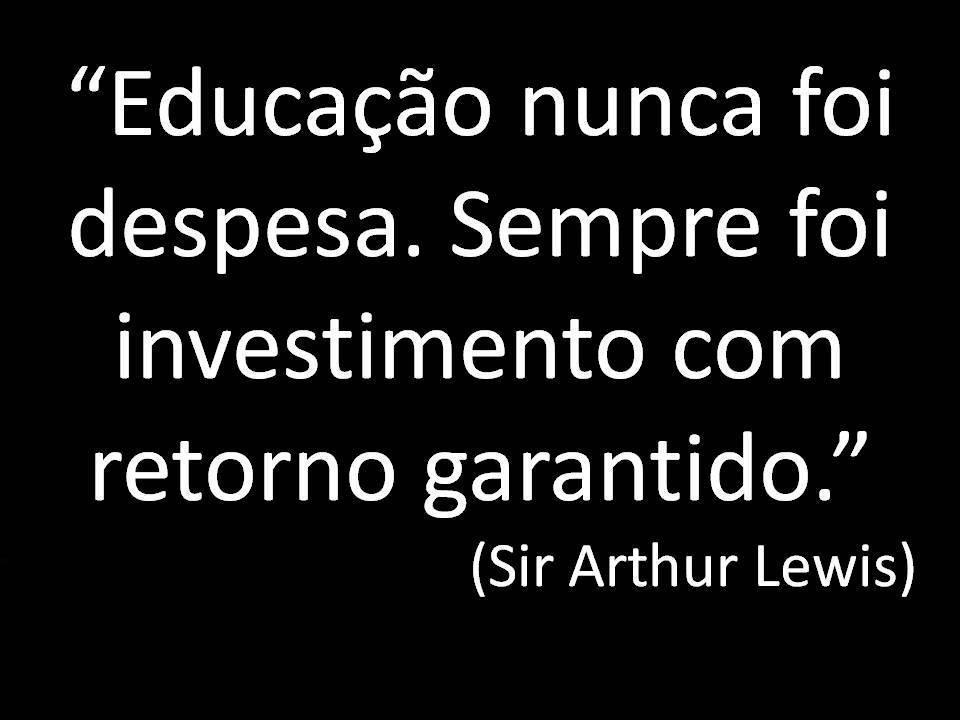Em entrevista à CELINA, cantora baiana de 33 anos fala sobre o nascimento do primeiro filho, o amor, a religiosidade e o processo de produção do álbum visual ‘Bom mesmo é estar debaixo d’água’, lançado em outubro
Amanda Pinheiro, jornal O Globo
“Para-raio, bete branca, assa peixe, abre caminho, patchuli”. Foi com esse verso, da canção “Banho de folhas”, que Luedji Luna ficou conhecida pelo público e deu tantas voltas por diversas cidades do país. Responsável por letras emocionantes sobre o que é estar no mundo, aos 33 anos, a cantora baiana lançou recentemente seu segundo e aguardado álbum, “Bom mesmo é estar debaixo d’água”. O disco chegou acompanhado no YouTube de um álbum visual, dirigido por Joyce Prado, com clipes para cinco canções que já acumulam mais de 300 mil visualizações.
Mãe do pequeno Dayo Oluwadamisi, Luedji conta que a chegada o primeiro filho mudou toda a sua visão sobre a vida e sobre a própria quarentena — cujo efeito colateral foi ter permitido com que ela fosse mãe em tempo integral. Em entrevista à CELINA, a cantora falou sobre suas experiências de vida, inspirações, amor e maternidade.
CELINA: Como foi o processo de criação e produção do novo álbum?
LUEDJI LUNA: Foi muito bom. Eu gravei no Quênia, na África e sempre encontro uma desculpa para voltar para a África (risos). Gravei com muitos africanos, o produtor é queniano e foi fácil, porque a banda se conhecia, tinha intimidade. Era um som que eu já vinha experimentando. E foi mais especial porque eu estava grávida, e acho que só potencializou essa energia criativa que eu já tenho naturalmente.
Como tem sido a Luedji Luna mãe?
A maternidade é uma coisa muito gostosa. Se eu pudesse teria uma penca de filhos (risos). Foi algo escolhido e está ligado a uma chance de nós, mulheres pretas, nos realizarmos enquanto mulheres e mães, quando tudo isso foi negado para nossas ancestrais. Nós tivemos nossos filhos saqueados, mortos e ainda há muitas mulheres nesse lugares, com filhos mortos e as que não conseguem criar os próprios filhos para criar os filhos das patroas. Então, poder viver a maternidade com plenitude, ser mãe e poder criar meus filhos é uma reparação histórica.

De onde você vem a inspiração para escrever suas canções?
A vida me inspira. A composição surgiu na adolescência, naquele período que é complexo, principalmente para uma adolescente preta, em um colégio particular. E encontrei na escrita um modo de romper com aquele silenciamento. Então, foi um jeito de existir por muitos anos e, aos 17, a escrita virou música. O que eu escrevo é a minha leitura do mundo e como ele atravessa o meu povo, minha vida. É um mundo que traz uma série de questões ligadas ao racismo, machismo. E minhas canções não são planfletárias ou propositais, elas nascem porque sou uma mulher preta atravessada por tudo isso.
Como se sente sendo responsável por traduzir o sentimento de tantas mulheres negras?
Foi importante para mim, ter visto na TV, há alguns, a Ellen Oléria ganhar um programa de grande audiência. Ela, uma mulher preta, gorda, sapatão. Foi significativo ter visto que era possível e o que me fez acreditar que eu também poderia ser possível. Mas a representatividade é incompleta, porque somos diversas, cada uma tem uma história, uma individualidade, subjetividade. Eu me sinto honrada em ser colocada nesse lugar de representação, mas o meu sonho é que cada mulher preta seja capaz de falar por si mesma, de se autorrepresentar e que a gente não precise dessa figura única. Eu não posso falar por uma mulher preta trans ou preta e gorda, por exemplo. Tem uma série de especificidades e peculiaridades de cada mulher que eu não dou conta, mas fico feliz em poder dar conta de algumas e torço para que elas possam se realizar, se autorrepresentar, aparecer, brilhar e lacrar (risos).

Em suas letras, você fala muito de dores, mas de uma forma sutil e, na mesma intensidade você fala de amor. Por que acha importante falar deste tema, sobretudo na perspectiva de uma mulher negra?
Eu acho que é importante falar de amor porque ele nos foi negado. O processo que a gente passou, e que os nossos antepassados passaram na escravização, destituiu a nossa humanidade. A grande lógica do racismo é dizer que nós não somos humanos e se não somos humanos, não somos dignos de receber amor. Esse lugar que nos colocaram de “coisificação” e demonização desse indivíduo negro, não é digno de amor. Então, acho que estamos em um processo, que já tem muitos anos e temos muito a caminhar, de retomar a nossa humanidade a partir do amor.
Amar e ser amado e reinvidincar esse amor, é reinvindicar nossa humanidade. Por isso, faço questão de falar de amor e não nesse lugar do romantismo, do clichê, esse amor das novelas, até porque, a gente não está nas propagandas e romances de novela. Então, a nossa discussão do amor, para pessoas e mulheres pretas, está além do que a gente conhece e nos é ensinado. É sobre retomar a nossa humanidade e dizer que nós amamos, embora esse amor não seja retratato. Amor de mãe, de pai, de amigos, sexual, entre mulheres, mostrar que além de existir é plural e tem problematizações, sim. E nós, enquanto comunidade, estamos resolvendo.
Como é sua relação com a política? Participa? Acredita que cada vez mais as mulheres pretas devem estar nesses espaços?
Estou neste movimento de acompanhar a candidatura de mulheres negras há um tempo. Acho que devemos disputar a institucionalidade, a gente ja faz política no cotidiano, nos terreiros de candomblé, mas é importante a gente disputar o Estado. Esse Estado que nos mata, que nos nega direitos. Não tenho vontade em me candidatar a nada, mas apoio as mulheres negras que estão alinhadas com o meu discurso, porque não basta ser preta(o), tem que ter uma ideia que contemple a nossa agenda de luta e militância. Espero que para além dessas candidaturas, nós tenhamos vitórias, e já somos vitoriosas.

Quando e como começou a sua relação com o sagrado?
É uma questão recente na minha música e surgiu na minha vinda para São Paulo (há cinco anos). Aqui, eu fui iniciada, comecei minha jornada no candomblé e acho que chega na minha música como alicerce, fundamento, não como tema. E é o que me alicerça enquanto indivídua e o que constitui minha subjetividade.
Luedji Luna: ‘Acho que devemos disputar a institucionalidade, a gente ja faz política no cotidiano, nos terreiros de Candomble, mas é importante a gente disputar o Estado’ Foto: Helen Salomão/Divulgação
Como você mantém seu ‘sol aceso’ e pratica o autocuidado?
Eu faço terapia há um ano e faço o que eu gosto, do jeito que eu gosto e quero. E isso me dá muita potência. Ter me realizado enquanto profissional foi o maior autocuidado que eu tive comigo em 25 anos. Ter assumido a música mudou a minha relação comigo, com o mundo e minha família. Eu acho que o jeito de deixar meu sol brilhar é ser honesta comigo, porque a gente não é só luz. Acolher a escuridão, às vezes dá raiva, sensação de insatisfação do lugar que eu ocupo, inveja da cantora branca, vem tanta coisa. E observar isso e aceitar, ser honesta e entender, deixar passar faz parte do processo. E claro, estar na Bahia, porque me reenergiza de sol, de axé, de mar, minha família.